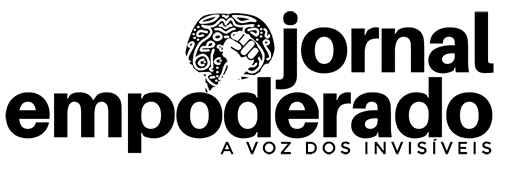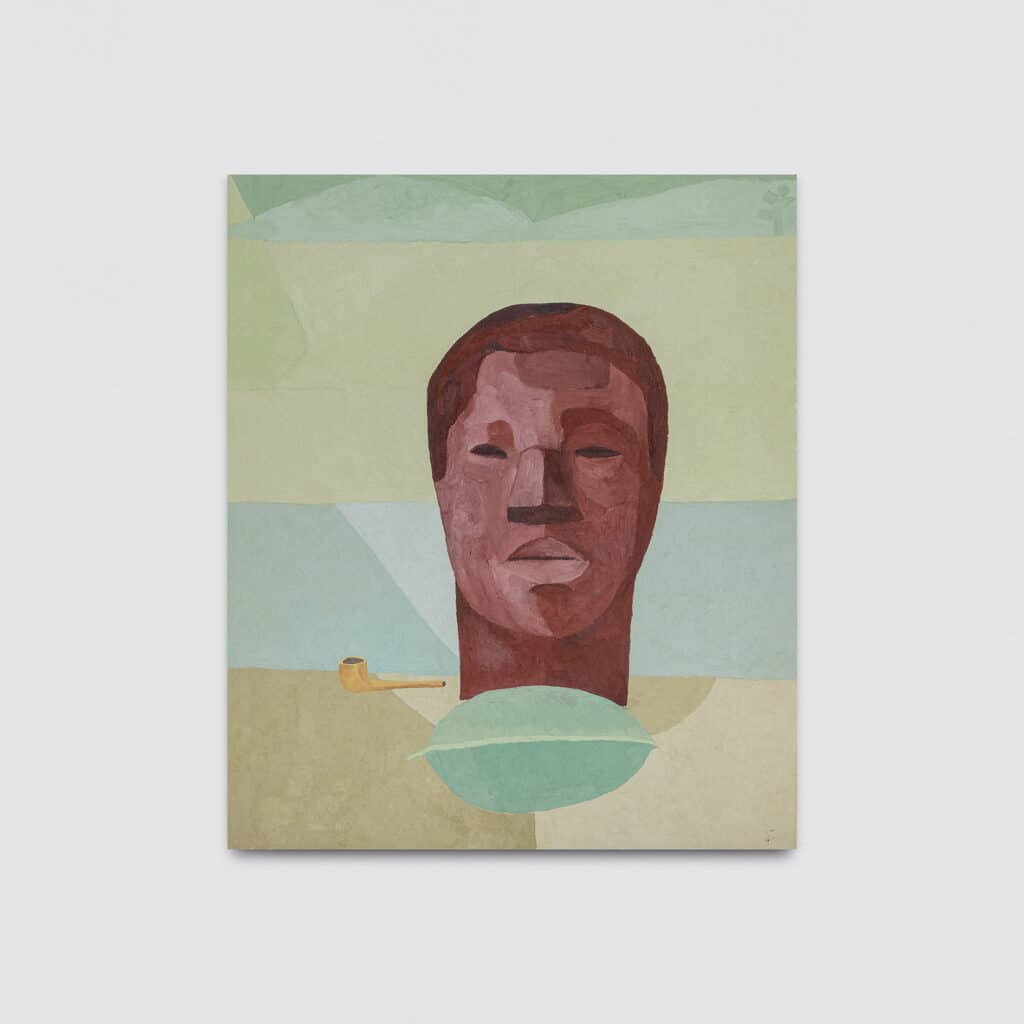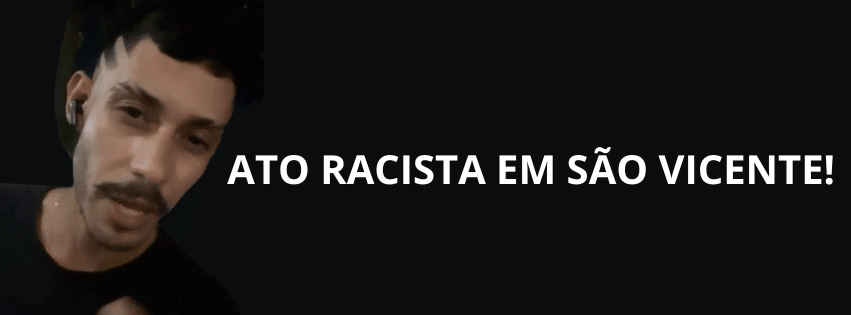Texto com colaboração e inspiração de Eliane Almeida
O lindo exemplo de Júlia
Júlia era “bugra”. Nome dado aos nascidos de relação inter-racial entre brancos e indígenas. Júlia nasceu ainda em tempos de escravidão, mas não era escravizada. Era uma mulher livre. Vivia no interior do Rio de Janeiro, de maneira muito simples.
Desde muito pequena, Júlia ajudava as mulheres da comunidade a construir casas de pau-a-pique. Observava os mais velhos desenhando na terra batida como deveriam ser as casas, quantos cômodos, onde estavam as melhores árvores para se fazer a estrutura das paredes, como bater o melhor barro para levantar as paredes e a técnica de construir palmo a palmo da casa sempre de maneira coletiva.
Vivendo ela daquilo que havia no campo, do que plantavam e dos escambos feitos pela ajuda na construção das casas, a vida caminhava seu curso como um riacho de água cristalina. Tropeiros iam e vinham e paravam por vezes na comunidade que precisava se mudar constantemente quando ficava difícil o plantio ou a pesca.
Numa dessas chegadas de tropeiros, Júlia, já adolescente, conhece Américo Almeida, um português recém-chegado. Foi em sua garupa que ela sonhou ser mais do que a menina que construía casas de pau-a-pique.
Tiveram 6 filhos. Mas veio a peste. Américo deixa Júlia com seus filhos num Rio de Janeiro bastante inóspito. Iriam assim que acabasse a guerra, era 1917, para Portugal a fim de colocar as crianças e Júlia em contato com a família Almeida. A peste o levou antes.
Júlia, então, passou a buscar nas redondezas pessoas que estivessem precisando construir suas casas, aumentar espaços em suas moradias. Afinal, construir era o que ela fazia de melhor. Conforme as encomendas foram chegando, Júlia passou a ensinar seus filhos a desenharem a estrutura das casas no chão batido e memorizar as formas para que os clientes ficassem satisfeitos.
As 6 crianças e Júlia então passaram a desenhar no barro batido, como seus mais velhos, as plantas das casas. Com a técnica de pau-a-pique construíram muitas casas. Júlia passou a receber como pagamento de seus serviços de pedaços de terra que serviram como espaço de plantio, espaço de moradia, espaço de vida plena.
Júlia é um exemplo de mulher que se utilizou do conhecimento ancestral para dar um novo rumo à sua vida após a partida de seu companheiro, Américo. A técnica de pau-a-pique, que já foi combatida por ser um habitat propício ao besouro do Barbeiro, disseminador da doença de Chagas, e matou milhares de pessoas nos rincões do Brasil.
Técnica utilizada por pessoas que viviam na mais profunda miséria como única forma de construção de uma casa digna, tem sido revista, nos dias atuais, como possibilidade ancestral. Entre um pisotear no barro para preparar a argamassa, a escolha das árvores para a construção das paredes, e dos desenhos na terra batida fazendo a vez do papel e prancheta para a elaboração da planta, viveram, sem conhecimentos acadêmicos, fórmulas, réguas e esquadros mulheres, negras quilombolas e indígenas, trazendo para cada palmo de suas paredes conhecimento e história de vida.
O apagamento e desvalorização da sabedoria de Júlia

Uma das características importantes da Bioconstrução é a recuperação de técnicas ancestrais em consonância com a natureza e aliar estas técnicas e modos de vida, quando necessário, às tecnologias e realidades atuais. O consumismo e o foco sempre no lucro e no status, colocou a maior parte do globo, como individualistas e distantes das relações tribais, de comunidade. A exacerbação da individualidade quebra os vínculos e a sensação de pertencimento naturais e necessários aos humanos.
O homem (e aqui quero dizer homem como gênero), branco, europeu, através das conquistas, dominação, colonização e do positivismo, se colocou como o ápice da humanidade, reduzindo todos os seres aos “outros” os “inferiores”. Eram eles os civilizados que precisavam “educar” e “modernizar” o “resto” do mundo. Desde então, a dita “humanidade” vem reproduzindo e reafirmando a ideologia dominadora e opressora. Essa história desqualificou as raízes, culturas, sabedorias, conhecimentos, identidades, memórias e pertencimento dos povos ancestrais. No Brasil, negros e indígenas foram colocados, e ainda são, nesta subalternidade.
Durante a dominação e colonização existiam entre dois e cinco milhões de indígenas originários, que foram quase totalmente dizimadas. Hoje, com muita luta, resistência e organização, eles são cerca de 250 mil indivíduos, distribuídos em 200 grupos étnicos com mais de 170 línguas.
Os negros foram trazidos a força para o Brasil como escravizados, sequestrados de suas terras, de seus territórios. Tratados como coisas, propriedade dos brancos, eles e elas resistiram como e o quanto puderam, mantendo algumas de suas tradições e sincretizando-as, mas perdendo muito mais do que as raízes, culturas e sabedorias. Assim como os indígenas, uma multidão perdeu a vida. Não bastasse, o último país a decretar o fim da escravidão, importou brancos europeus para embranquecer os trabalhadores do país, relegando os negros à pobreza, à subserviência, aos espaços marginalizados.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020, existiam 1.108.970 de pessoas morando em localidades indígenas e 1.133.106 em quilombos no Brasil.
Ailton Krenak, em Ideias para adiar o fim do mundo (2019), critica esta noção de que existe um jeito certo e verdadeiro de estar aqui na Terra e a noção de que somos UMA humanidade. “Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser?” (KRENAK, 2019, p. 8). O autor faz uma dura e justa crítica ao antropocentrismo e a como a “civilização” arrancou as pessoas dos campos e florestas para marginalizá-las nas favelas e periferias, jogando-as na servidão e arrancando-lhes também as chances de um bem-viver.
São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes — a sub-humanidade […] uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma sub-humanidade, uma gente que fica agarrada na terra. Parece que eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda […]” (KRENAK, 2019, p. 11-12).
Mas o que isso tudo tem a ver com a Bioconstrução?
Junto com a imagem de inferioridade, com a marginalização, com a falta de oportunidades, foi roubado dos pretos e indígenas que vieram para a cidade a possibilidade que suas ancestralidades lhes davam de construir suas próprias casas com os insumos da terra. Eles passaram a construir suas casas com o material que os brancos fabricavam e vendiam. Toda cultura de construção com terra foi também desqualificada. Afinal, quem não lembra da casa de pau-a-pique, do livro da escola, que guardava o barbeiro em suas paredes? Daquela identificada como fruto da extrema pobreza?

Quem iria, em sã consciência recuperar as técnicas ancestrais para construir casas insalubres e que diziam para todo mundo que quem morava ali era extremamente pobre?
Acontece que as lindas casas coloniais das cidades históricas como Ouro Preto, Paraty, Tiradentes, entre outras, foram feitas com estas técnicas e estão lá imponentes até hoje. Por que elas não estavam também nos livros como exemplos destas técnicas? A resposta é simples: para não dar a chance aos pobres de fazerem casas bonitas, confortáveis e imponentes. Para manter a distância entre pobres e ricos. Para que esta distância ficasse viva aos olhos e à alma.
Quando a Bioconstrução é recuperada por motivações ambientais, ela ganha um novo formato, contornos e status. Contudo, o grupo que propõe este resgate e que vem defendendo o uso desta técnica também costuma defender a partilha justa, como vimos no texto sobre a Permacultura e da flor da permacultura, e a popularização da técnica para um bem-viver, mais acessível a todes.
Valorizando a ancestralidade

Além de abrir possibilidades de melhores moradias, mais baratas, mais saudáveis e sustentáveis, é preciso valorizar a sabedoria ancestral. Valorizar não apenas a construção com terra, mas a totalidade desta ancestralidade, resgatar seu legado como valoroso e sábio que é. Se queremos um mundo melhor, precisamos resgatar essa história, todas as histórias.
Pensando nisso e assumindo o meu lugar de branca, não tenho lugar de fala para contar esta história, mas tenho este espaço aberto para propagar as vivências e reverenciar a ancestralidade que hoje me permite a conexão com a natureza, de forma sustentável em meu sítio. Abri o coração, o sítio e essa coluna para promover a possibilidade de aprendermos com ela e abolir a escravidão do sistema.
É possível sim construir sua casa com suas mãos. É possível sim utilizar os recursos ao redor. É possível sim voltar aos territórios, mas também, transformar os territórios que hoje habitamos. É possível que a população deixada de lado pela sociedade tenha moradias dignas e belas.
A história de Júlia é real e ancestral, contada por Eliane Almeida, que divide hoje comigo esta coluna, tem lugar de fala e é prova e inspiração de que tudo isso é possível e que a força das mulheres faz diferença nesta história.
Que nos sirva de inspiração e motivação.