A expressão “mãe preta” é tradicional. “Mãe Preta” é o nome dado ao trabalho de sermos amas-de-leite e cuidadoras dos filhos dos senhores brancos, em detrimento aos cuidados dos nossos próprios filhos. Fomos e somos duplamente mães pretas. Mãe de filho negro e mãe substituta de filho branco. “Por um lado cumprindo a missão ditada pela natureza; por outro, obedecendo às imposições do duro regime da escravidão”, dizia o jornalista Aristides Barbosa. Passamos de ama à baba, de mucama a doméstica, somos domésticas ou, ao menos, filhas, netas, sobrinhas e irmãs de domésticas.
Em 1971, Chico Buarque canta a música “cotidiano”, gatilho desta matéria. Todo dia faço “tudo sempre igual”, de forma diferente da mãe que tive e da que sou ou serei. Todo dia nomeio minhas dores, torno-me leoa contando minhas próprias histórias.
Toda vez que contradigo o ditado popular, “Mãe não é tudo igual”, alguém discorda, abre a boca e complementa: “Mãe é tudo igual, só muda de endereço”. O clichê não leva em consideração a riqueza, a individualidade e as adversidades que moldam a maternidade negra.
Na maternidade negra o fluxo natural da vida se inverte, temos muito mais chance de enterrar nossos filhos. Se não os matam, oprimem ou aprisionam. Impossível revestir” a nossa pele preta para imunizá-llo, nosso corpo é um alvo sempre disposto e exposto. Vivemos numa intranquilidade permanente.
Após oito anos do falecimento da Raissa e Larissa, tornei-me mãe por adoção tardia do JP e PH. Rotularam-me de “uma mulher ruim” (incapaz de gerar), entre um e outro comentário as dicotomias marcaram essa maternidade. Tudo tem dois lados, como se não houvesse caminho do meio. Desde a decisão pela adoção tardia até a guarda definitiva, recebi apoio de uns e conselhos de outros, fundamentados no estigma de que crianças mais velhas trariam consigo maus hábitos, defeito de caráter, devido à uma história pregressa. Assim como a ideia de que só a presença de um filho biológico pode concretizar plenamente a maternidade.
Durante muito tempo duvidei do equilíbrio de ser mulher e mãe. Ora anulei-me para construir e manter a imagem de “mãe perfeita”, segundo a norma da maternidade. Me animalizei e multipliquei meus braços. Outrora forcei a barra, travei um cabo de guerra por entender que não existe um único de ser mãe. Hoje sou uma “Mãe Suficientemente Boa”.
Fingi pelo tempo que consegui que nada estava acontecendo, por não identificar o tal paraíso da maternidade. Sentimentos relacionados a renúncia, padecimento, ausência de tempo sufocavam o outro lado. Me rebelei e ponto, encontrei o equilíbrio entre as duas versões.
Eles estão na pré-adolescência e o padrão é o mesmo, pouca escuta e impulsividade. Em prosa com outras mães ouço: faz assim, faz assado, fica desse jeito. Entre vitoriosas e ressentidas, a imagem de mãe perfeita, abnegada, paciente e disponível, é mera ilusão, nem tudo é #gratiluz. Ter os limites testados o tempo todo é algo que esgota muito, é tentar sobreviver a “situação-limite”. Peço diariamente que os pequenos aborrecimentos não ofusquem as memórias construídas.
A romantização da maternidade gera um discurso cíclico, monótono, sufocante, cansativo, doloroso e silenciado. Diálogos e debates desarticulados atrelam a maternidade à visão de que a mulher só será completa ao se tornar mãe. Na roda, nunca fomos percebidas como mães.
Como bem nos lembra Chimamanda Ngozi é limitante pensarmos a partir de apenas uma visão. Precisamos nos eleger como interlocutoras, para novas narrativas e versões pouco ouvidas, uma experiência materna que se desdobra em maternidades.
Em meio aos acontecimentos, o empoderamento feminino domina a cena e deixa claro que somos pilota e não passageira. O enredo tem dois princípios definidos. O primeiro é a ideia de maternidade, deixa de ser algo divino, sagrado, instintivo, um destino natural e obrigatório. O segundo é a ideia de que o instinto materno vem se desfazendo diante das novas modalidades do ser mulher, bem como a decisão de não ter filhos.
Simone de Beauvoir em sua obra intitulada “O segundo sexo”, afirma que a maternidade se apresentava como um destino imutável. A fuga dessa rota, optar em não ter filhos, muitas vezes é configurada como anormalidade, egoísmo, falta de dever cívico ou patologias. Sob outros olhares é um posicionamento político.
Nas bordas desse ritual diário do maternar, deparei-me com o conceito do Burnout Materno. O que era sutil tornou-se gritante, ao ponto da necessidade do outro sobressai as minhas. Não tenho tempo ou espaço para descansar ou cuidar de mim mesma. Inúmeras, são ou foram as vezes, que sinto-me inadequada e incapaz, desenvolvi o sentimento de distanciamento emocional, indiferença e insensibilidade. E vocês o que desenvolveram?
Aí entra a importância do acolhimento, da rede de apoio entender que precisamos sim aprender a “balançar o Mateus” das outras porque a responsabilidade de formar um ser é muito grande para ser de uma única pessoa. Não há vergonha em desvelar que o maternar não se estende somente às mães, mas também para demais pessoas que exerçam o papel de cuidador.
“A mãe perfeita não grita, não se desespera, não perde a calma, sobretudo… ela não existe!” (autor desconhecido).
Revisão e edição: Tatiana Oliveira Botosso
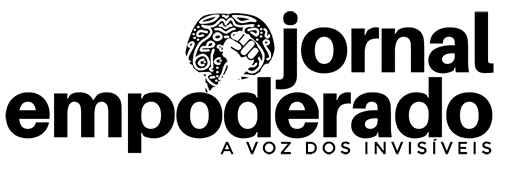






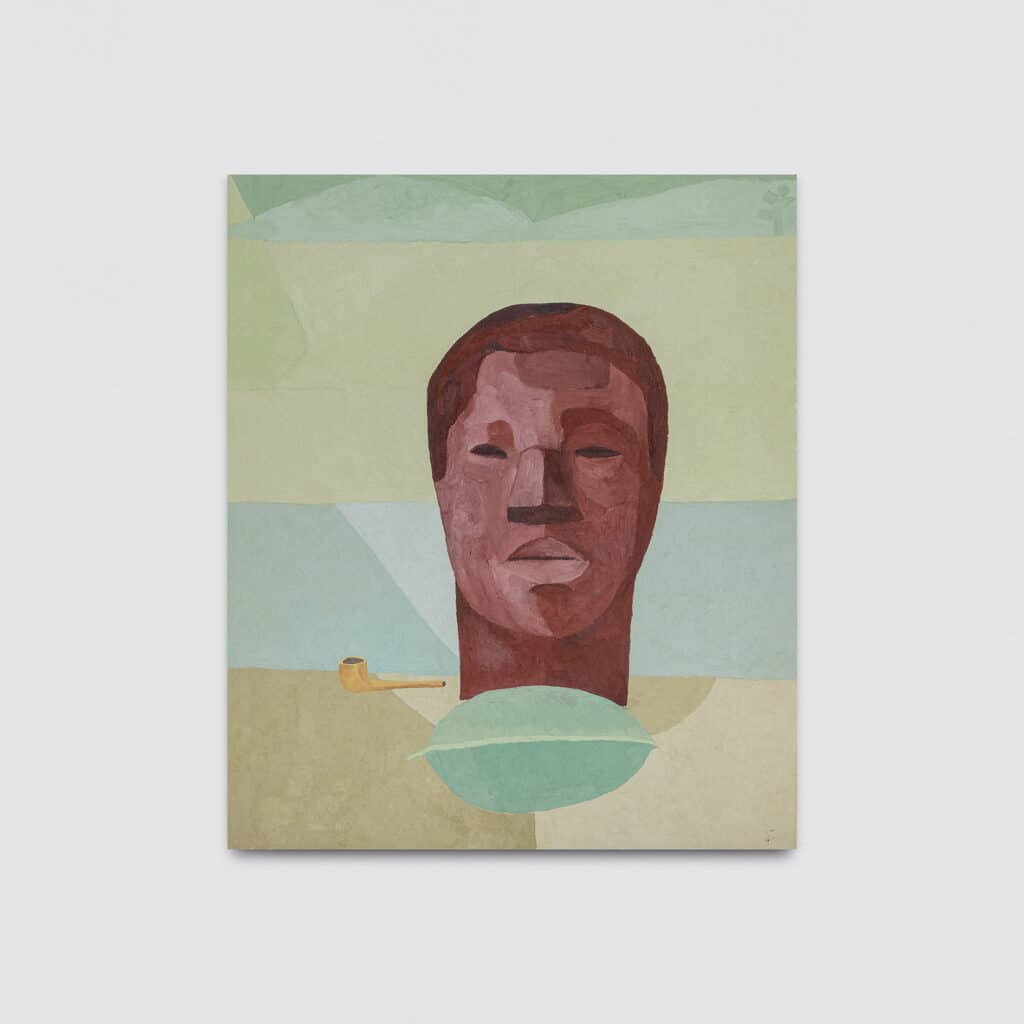
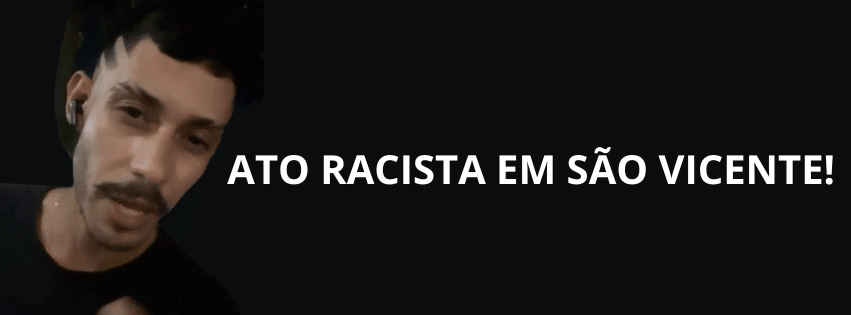








Respostas de 4
Uauauua estou impactada com essa matéria e me vi em muitas falas, por um período achei que ser mãe era apenas viver em função do meu filho e não fazer mais nada, com o passar do tempo percebi que antes de ser mãe eu era mulher e que podia sim ser ambas as coisas e ainda por cima direcionar o caminho e não apenas só ser mãe e não trabalhar por exemplo. Após essa reflexão pude entender melhor o que é ser mãe já que não obtive aqueles momentos de felicidade em ter meu primeiro filho muito pelo contrário tive tudo de ruim em minha gestação e posso dizer que o dia que meu filho nasceu e ver ele hoje aos 21 anos sendo um adulto e seguindo o seu caminho sem nenhum arranhão, sem estar com pessoas erradas enfim posso dizer que ter um filho adulto me faz refletir que eu consegui educar e criar ele bem dentro do que eu entendo o que é ser mãe e me orgulho disso.
Fabi, texto profundo, e necessário.
A maternidade tornou-se uma profissão, semelhante à Docência: “Professor/a não dorme, não bebe, não grita, não chora”.
Ser mãe é complexo, de forma biológica, ou, outros meios. É uterino!
Siga resistente, afinal, um dia sempre será diferente do outro. E é por isso que ainda estamos aqui. Beijo, com Axé!
O texto conseguiu abranger muito da minha experiência com a maternidade, grata por compartilhar suas ideias.
Seu Aristides Barbosa foi meu professor de inglês e francês, mente maravilhosa com trabalho árduo para mostrar a magnitude da população negra.
Que texto profundo, Fabi. Quantas camadas… Obrigada por compartilhar seus sentimentos com a gente. Ver-se na fala da outra é mais que apenas se identificar, porque é acolhedor poder pensar: “não sou a única. não estou sozinha.”
Ao mesmo tempo essa sensação de frio na barriga por não saber como será o dia seguinte, essa insegurança da mãe culpada (culpabilizada) por tudo, é tão pesada, tão injusta, né? Akin tá na adolescência também, aquela fase dos 2 a 3 anos, mas eu sei que não vou estar sozinha em nenhuma dessas fases, e, sim, sou suficientemente boa. (Obrigada por isto) Sou a melhor mãe que Akin poderia ter, assim como você é a melhor mãe de PH e JP. Nada perfeitas. 💜