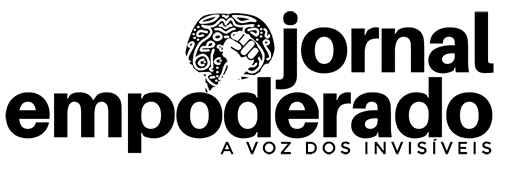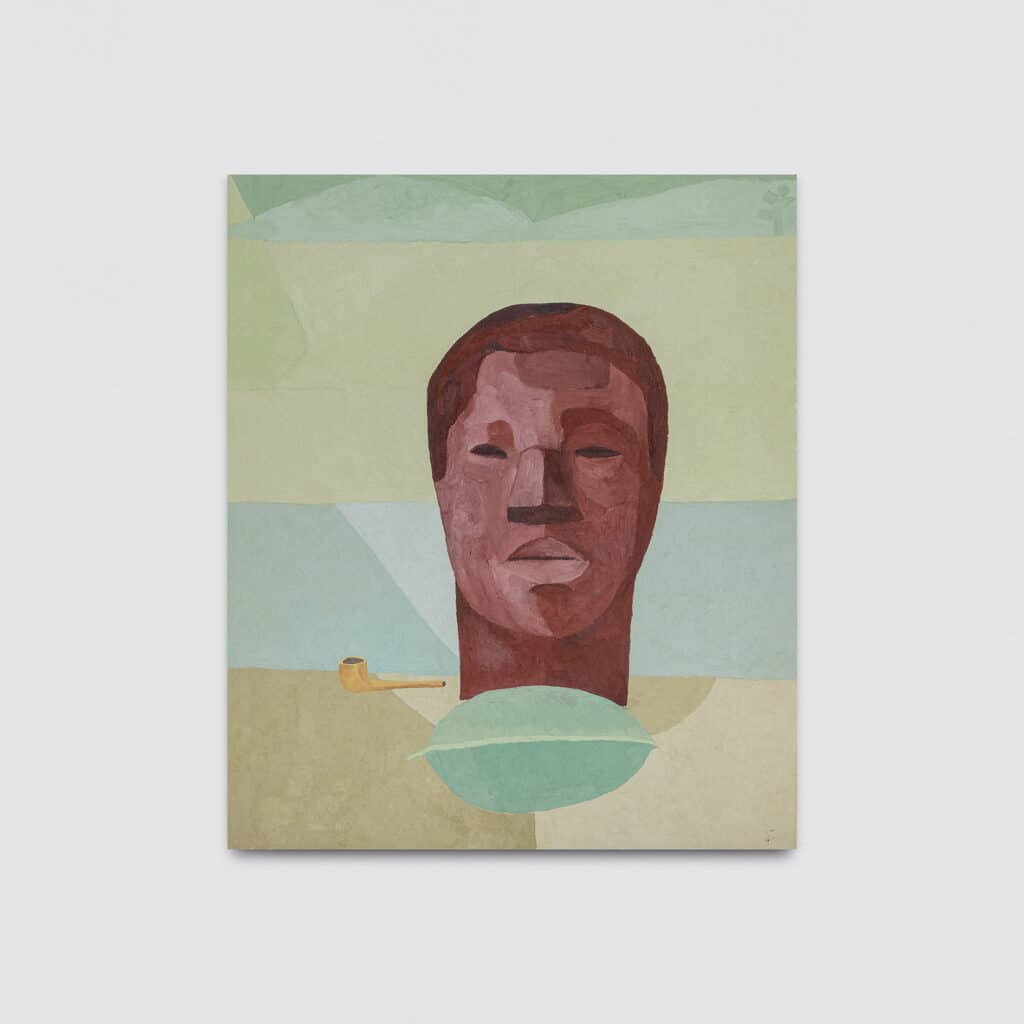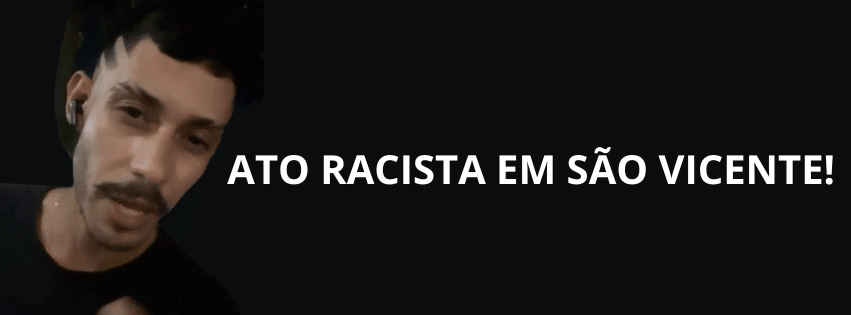Luana Muniz, travesti que viralizou após sua fala icônica e marcante na televisão, já nos mostrava que “travesti não é bagunça”. Gosto muito dessa frase porque mesmo simples, ela nos diz muito. Ela nos passa uma mensagem de “basta”, “deste ponto em diante não aceitamos mais”. É um grito de dignidade, de existência. E no caso de Carolina Iara, travesti, negra, pessoa intersexo e HIV+, são constantes os apagamentos que levam a gritar “eu existo”.
A história de Carol, criada como eu na Zona Leste de São Paulo, é marcada por uma vivência típica de periferia urbana. Seus pais e demais referências próximas do bairro, na região da Sapopemba, eram ativos em movimentos de moradia popular, o que a aproximou da luta social desde muito cedo. E foi com essa proximidade que pôde conhecer e ter como referência outras travestis. Segundo a co-vereadora do PSOL, esta relação não é fruto do acaso, “a própria travestilidade é uma identidade racial e de classe”.
Mesmo transicionando cedo (ou seja, percebendo e escolhendo viver sua identidade trans), Carolina foi obrigada a realizar a “des-transição”, tendo que se anular e viver “como um homem” para a sociedade. A prostituição e o medo da marginalização e transfobia foram os responsáveis por esse caminho. Esta história me remete fortemente à de Xica Manicongo, considerada por nós como a primeira travesti não indígena do Brasil. Xica foi sequestrada de África, em território bantu, e trazida como escravizada para Salvador. Lá, suas expressões de “gênero” típicas de seu povo eram lidas pelo colonizador como pecado, bem como a resistência ao nome de “Francisco”. Xica não era um homem e não iria sê-lo, mas foi obrigada pela Inquisição a se fantasiar como tal para não ser queimada viva. Carolina Iara e muitas outras acabam tendo essa anulação imposta para sobreviver, tal qual fez nossa transcestral em 1591. Essa é a história do Brasil, de morte e anulação de travestis.
Porém, anos depois, Carolina Iara honra a memória de Xica Manicongo e muitas outras, transicionando novamente e se libertando para viver sua verdadeira existência e essência. Hoje, a gata é co-vereadora pela Bancada Feminista do PSOL, grupo pelo qual disputa agora um cargo de co-deputada estadual na tradicional Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que só em 2019 foi ter na figura de Érica Malunguinho sua primeira parlamentar trans.
A disputa de Carolina Iara dentro do movimento feminista e LGBTQIA+ não vem sem resistência. “Alguns homens gays cis não aceitam ser dirigidos por travestis”, aponta Carolina Iara sobre como o movimento ainda precisa avançar para ser verdadeiramente inclusivo e reverter apagamentos, ainda mais considerando que a co-vereadora levanta fortemente a bandeira de pessoas que vivem com HIV. Segundo ela, “A última parada LGBT foi sobre HIV, nos deram destaque, tem um sentido de restauração. Porém, ainda têm dificuldades muito grandes e uma verdadeira dívida histórica, uma dívida das décadas de estigmatização e invisibilização”.
No que diz respeito ao feminismo, Carolina Iara defende uma “virada de página” nas agendas, de modo a sairmos no tradicional feminismo cisgênero branco liberal e pautarmos as “99%” que são mais afetadas pelo patriarcado, o capitalismo, o racismo e a transfobia. Por isso, vê a importância de sua presença em uma bancada feminista, pois vê como “muito importante essa disputa do feminismo por travestis”.
Ter corpos travestis, negros, intersexo, e vivendo com HIV como o de Carolina Iara é um presente para o cenário político atual, porém, sempre fundamental lembrarmos, “quem protege as mulheres trans e negras eleitas?”. Carolina foi alvo de ataques em sua casa feitos para lhe coagir e gerar medo. Porém, como co-parlamentar, não teve direito a segurança por parte da Câmara Municipal de São Paulo, muito menos da Prefeitura. Se queremos nos privilegiar em sermos legisladas e legislados por uma travesti que carrega bandeiras são fundamentais a um novo marco civilizatório, temos que cuidá-las. Travesti não é bagunça e requer cuidado.