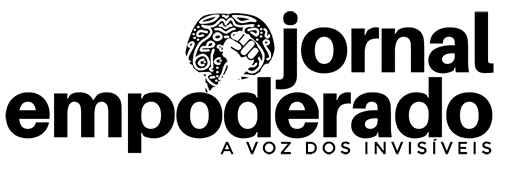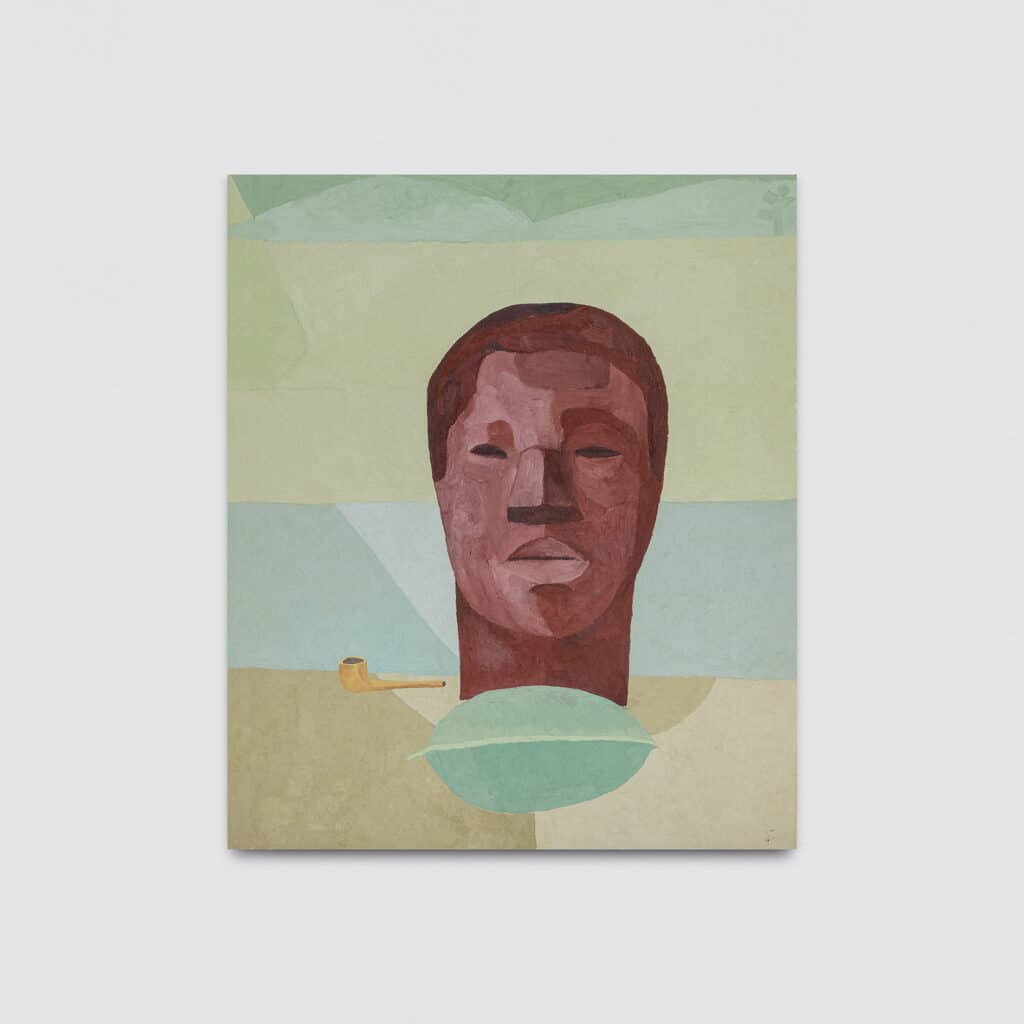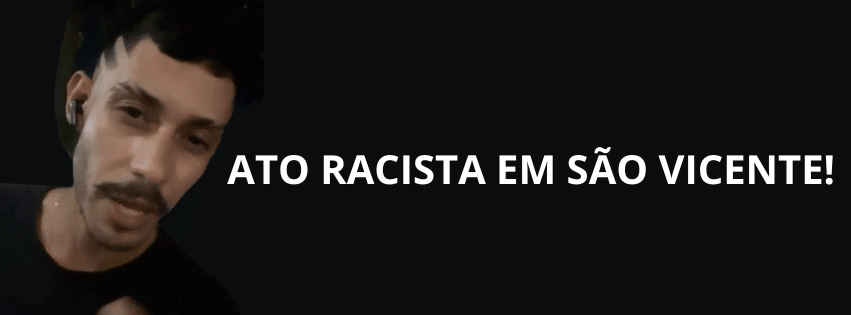por Walter Falceta, jornalista.
Comecei a trabalhar em 1978. Tinha 14 anos. E ia para o centro, como office-boy, entregar e coletar documentos, em repartições públicas e empresas.
Mas eu já conhecia parte da região desde 1970, quando por ali passeava com meu tio Lulo, um cara que fez a instalação elétrica de muitos desses antigos edifícios.
Em seus primeiros anos, na virada dos 60 para os 70, o Wilton Paes de Almeida era um dos xodós da cidade, com sua fachada envidraçada, 24 andares na Rua Antônio Godoy, em nosso caminho para a Igreja de Santa Ifigênia.
O centro de São Paulo era outra coisa na época. Preservava um pouco de elegância e de harmonia. Ainda era possível trilhar os caminhos literários de Oswald de Andrade e de Patricia Galvão.
Ainda havia a Confeitaria Vienense, na Barão de Itapetininga, e a gente vendia garrafa para comprar jogos de camisas de futebol na Libero Badaró, ali do ladinho do Edifício Sampaio Moreira, o primeiro arranha-céu de São Paulo.
Nos anos 1970, parte da vida econômica da cidade ainda se encontrava na região. Tinha o Mappin, a Mesbla, a doceria La Romana, o Cine Olido, o Cine Ipiranga e o Cine Marabá.
Durante a segunda metade daquele década, no entanto, a gestão dos atrapalhados ditadores militares aprofundou as desigualdades sociais e o descompasso econômico.
O êxodo rural, a concentração de renda, a inflação galopante, a ausência de políticas públicas e a corrupção generalizada fizeram do centro um lugar cada vez menos amigável.
A elite econômica conduziu-se da maneira padrão no mundo capitalista: fez as malas e mudou-se dali. Cada empresa largava para trás um pedaço de terra arrasada.
O centro do dinheiro foi caminhando para a Avenida Paulista, depois para a Faria Lima, depois para os fundos da Zona Sul.
Curiosamente, o sistema impediu que os sem-teto da urbe se tornassem os novos habitantes do lugar, os condutores de seus negócios. A ganância da elite bandeirante impediu a troca de posses.
E a cidade do centro, com seus filhos conduzidos às longínquas periferias ou largados em suas pontes e praças, começou a arruinar-se.
Entre os anos 80 e 90, estive várias vezes no Wilton Paes de Almeida, que já parecia enfeado e maltratado. Foi na época em que ali funcionava a Polícia Federal.
Muitas vezes, a missão era acompanhar os depoimentos de gente envolvida nas maracutaias do governo Collor.
Ali do lado, enfileiravam-se muitas das melhores casas de equipamentos para fotografia. Era lugar de fazer ampliações, adquirir filmes e até mesmo lentes e filtros.
Passou o tempo. No Brasil da Nova Ditadura, o centro é o lugar dos abandonados da terra, dos desencaminhados, dos excluídos, dos estrangeiros que, durante o governo Lula, foram atraídos pela ideia de um país acolhedor, progressista e gerador de oportunidades.
Há pouco tempo, passei pelo Paissandu em uma noite escura e garoenta. Mostrei para minha companheira o vulto escuro, decrépito e pichado. Era o outrora brilhante Wilton Paes de Almeida.
Pensei no uso. Precisaria mesmo ser habitado assim, por ocupação? Não tinha condições o poder público de cedê-lo, em condições dignas, para o povo trabalhador?
Que cobiça, somada à avareza, permite que as coisas se estraguem antes que sejam compartilhadas com quem delas precisa?
Assim, no sofrimento, no fogo e na dor, o velho Wilton ruiu para contar um pouco da triste história do nosso Brasil.
Descaso, intolerância, arrogância, mesquinhez, tudo isso agora em uma vergonhosa pilha de escombros.